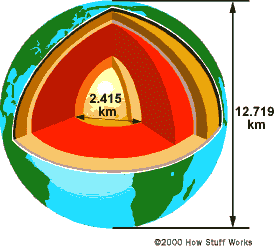Qual o objetivo do reflorestamento?
O desmatamento, as queimadas, a expansão de áreas agrícolas, entre outros, resultaram na destruição de florestas e, consequentemente, em grandes transformações, como redução da biodiversidade e alterações nos sistemas climáticos, pedológicos e hidrológicos.
Para recuperar os ecossistemas degradados, as áreas verdes e, ainda, as espécies nativas que foram devastadas por algum motivo, as ações de reflorestamento se tornam alternativas eficientes.
A prática se refere à atividade de replantar florestas que foram suprimidas por algum motivo. O processo promove o sequestro de CO2 da atmosfera, diminuindo assim a concentração deste gás e consequentemente, desempenhando um importante papel no combate ao efeito estufa. Dessa forma, conforme a vegetação vai crescendo, o carbono vai sendo incorporado nos troncos, galhos, folhas e raízes.
Além disso, o reflorestamento é de grande importância no aumento dos recursos hídricos e na redução dos prejuízos na agricultura relacionados com enchentes. Confira algumas outras vantagens:
- Contribuem com as correntes subterrâneas e à manutenção dos rios;
- As árvores reduzem significativamente a poluição acústica nos cruzamentos e vias de grande movimento;
- É uma fonte constante de combustível para estufas e usinas;
- O manejo planejado e controlado de florestas é uma fonte sustentável de madeira;
- As florestas têm papel, importante na preservação da Fauna e da Flora silvestres.
Tipos de reflorestamento
Apesar dos benefícios e vantagens já descritas, o processo nem sempre é bom. Isso porque existem dois tipos de reflorestamento: um com fim unicamente comercial e o outro, sim, voltado para a recuperação de áreas degradadas.
Dessa forma, é preciso tomar cuidado e observar as necessidades da região. Afinal, enquanto a recuperação de áreas verdes é uma ótima alternativa, o processo com fim comercial compromete a biodiversidade.
Fonte: Pensamento Verde